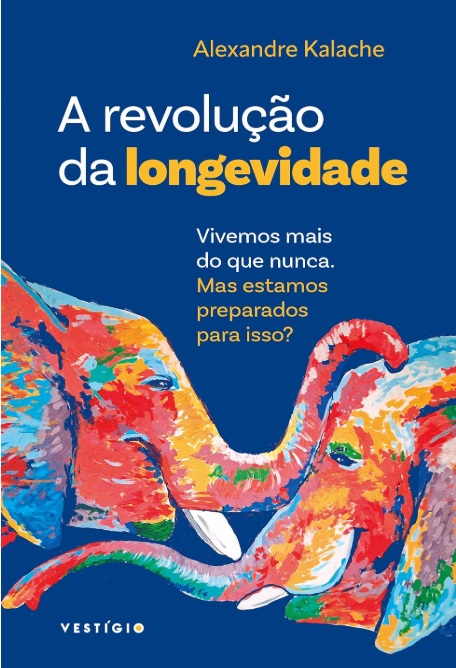Há quem diga que envelhecer é um privilégio. Alexandre Kalache prefere lembrar que é também uma conquista – e, sobretudo, uma responsabilidade coletiva. Em A revolução da longevidade (Editora Vestígio), lançado oficialmente na última quarta-feira, 21, o médico e especialista em saúde pública propõe uma reflexão profunda sobre o país que insiste em envelhecer, mas ainda engatinha diante do próprio envelhecimento.
Logo nas primeiras páginas, ele deixa claro: não se trata de uma autobiografia, nem de um manual otimista sobre o envelhecimento. É uma carta aberta — especialmente aos mais jovens — convidando a olhar o futuro com a lucidez de quem sabe que o tempo é inevitável, mas que a forma como envelhecemos é reflexo de determinantes sociais. “Estamos todos no mesmo barco, uns na proa, outros na popa, mas todos envelhecendo, no gerúndio, nesse processo inexorável”, escreve.
Parafraseando a geriatra Karla Cristina Giacomin, o especialista destaca que “o futuro do Brasil é a velhice”. Uma frase simples, quase incômoda, que parece contrariar a imagem que o país sempre vendeu de si mesmo: jovem e vibrante. Mas as estatísticas vem, apressadas, desmontando essa ideia. Se nos anos 1970, a taxa de fecundidade era de quase 6 filhos por mulher, hoje gira em torno de 1,5. Por outro lado, desde o início do século, o único grupo populacional que cresce no Brasil é o dos maiores de 60 anos.
“Nunca na história da humanidade viver muito foi uma dádiva alcançável para mais e mais pessoas. O que antes era privilégio de poucos agora é realidade de muitos. E ainda veremos mudanças mais profundas: o boom jovem que formava a base da pirâmide etária vai atravessar a sociedade como um bezerro engolido por uma sucuri: visível de ponta a ponta […] Quando os jovens de hoje forem idosos, um em cada três brasileiros terá mais de 60 anos”, escreve Kalache, que durante treze anos foi diretor da Unidade de Envelhecimento e Curso da Vida da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Entre memórias, análises e alertas, A revolução da longevidade percorre temas como o idadismo, a solidão, as desigualdades de gênero e o direito à dignidade em todas as fases da vida. Kalache fala como quem testemunhou — e ajudou a construir — a transformação demográfica que agora se impõe. Afinal, como ele próprio resume, “a maior conquista social dos últimos cem anos foi adicionar anos à vida. O grande desafio do século em que vivemos será adicionar vida aos anos.”
Durante o lançamento do livro, no Teatro Bradesco, durante o 18º Fórum da Longevidade, Kalache conversou com a reportagem. Confira os principais trechos.
O que há de diferente neste livro em relação aos outros e o que o motivou a escrevê-lo agora?
Veja só: são 50 anos de dedicação total à gerontologia. Quando comecei, longevidade nem era um tema. Era coisa de país desenvolvido, e a abordagem era puramente biomédica. Eu era muito jovem quando percebi o choque que isso representava — o Brasil estava envelhecendo, e a sociedade não estava se preparando. Desde o início, quis olhar para o envelhecimento pela lente da saúde pública, considerando os determinantes sociais. O que faz uma pessoa envelhecer bem e outra não? Essa foi minha pergunta desde o mestrado e o doutorado, e continua sendo hoje.
E essa trajetória se refletiu na estrutura do livro?
Sim. O livro é uma coleção de reflexões acumuladas ao longo desses anos, mas não é uma autobiografia, nem um manual de autoajuda. É um convite para pensar. E, claro, velho gosta de contar história [risos]. Então trago histórias que ilustram princípios, ideias e experiências — de pessoas que conheci, de contextos que vivi.
Há, por exemplo, o caso de uma mulher que envelhece sozinha em Teresópolis, com medo de uma nova enchente, sem ajuda dos filhos. Ou o de uma amiga em Nova York, prestes a completar 100 anos, cega, com mobilidade limitada, mas lúcida e cercada pelos cuidados da comunidade gay que ela acolheu durante a epidemia de HIV. São histórias que falam sobre propósito, vínculos e reciprocidade.
Você toca também na questão do cuidado. No Brasil, ele ainda é um papel atribuído quase exclusivamente às mulheres.
Sem dúvida. O homem no Brasil não aprende a cuidar. E se espera que a mulher saiba. Talvez isso comece a mudar — quando eu estudei medicina, apenas 8% da minha turma eram mulheres. Hoje, elas são mais da metade. Eu me pergunto: será que isso vai tornar a profissão mais compassiva, mais cuidadosa? Ou será que a estrutura ainda é tão masculinizada que mesmo as mulheres vão reproduzir determinados padrões?
Estive recentemente na Academia Nacional de Medicina e disse aos acadêmicos: “Olhem ao redor. Quantos negros há aqui? Quantas mulheres?”. Nenhum. A única mulher presente era a presidente — e, ainda assim, uma exceção. É disso que estou falando: representatividade e diversidade são parte da transformação cultural de que precisamos.
No livro, você também fala sobre desigualdades e sobre como o envelhecimento é vivido de formas muito diferentes no país.
Sim. A revolução da longevidade é real, mas não é igual para todos. Envelhecer bem ainda é um privilégio. Quem tem acesso a recursos e saúde vive o envelhecimento. E quando eu digo ‘vive’, não é o simples viver, mas viver com vida. Mas há milhões que apenas sobrevivem — aos tapas, como eu costumo dizer.
Você pega São Paulo, por exemplo: do Morumbi até Paraisópolis, há uma diferença enorme na expectativa de vida. No Rio, a Rocinha, com 150 mil habitantes, fica a poucos metros do bairro com o metro quadrado mais caro da cidade. É o retrato da desigualdade. Todos envelhecem, mas em condições muito diferentes.
E o medo de envelhecer? Ainda é um tabu na sociedade brasileira?
As pessoas têm medo, sim — e muito. Em parte, porque têm medo da morte. Como não aprendemos a lidar com a morte, negamos o envelhecimento. O velho é sempre o outro.
Eu costumo começar minhas palestras fazendo minha descrição de tal forma: “Sou um velho. Sou careca, tenho rugas que mostram afetos e desafetos, sabores e dissabores. Uso óculos, minha barba é branca. Portanto, sou velho — e podem me chamar assim”. Isso não me ofende. O problema é que, no Brasil, ser velho ainda é sinônimo de decadência. Isso tem a ver com a história da geração atual de idosos: pouco acesso à educação, poucas oportunidades. O país envelheceu rápido demais, mas sem tempo de criar uma cultura para isso.
Você chama esse processo de uma “revolução”. Por quê?
Porque foi algo abrupto. Diferente da França ou da Inglaterra, que levaram mais de um século para envelhecer, o Brasil fez esse caminho em poucas décadas. Vacinas, antibióticos, o SUS… Tudo isso permitiu que as pessoas sobrevivessem. Mas agora precisamos dar o próximo passo: garantir que elas vivam bem. Como digo no livro, “a maior conquista social dos últimos cem anos foi adicionar anos à vida; o grande desafio do século em que vivemos será adicionar vida aos anos”.
Então você acredita que ainda não estamos preparados?
A resposta honesta é não. Mais do que em muitas outras sociedades, nós idolatramos a juventude. A beleza, no Brasil, ainda é sinônimo de ser jovem – e isso molda a forma como encaramos o envelhecimento.
Acredito que, para um país envelhecer bem, são necessários quatro pilares: saúde, segurança, aprendizagem ao longo da vida e participação. Mas nada disso avança se não enfrentarmos a pedra no meio do caminho, que é o idadismo. Ele está institucionalizado, e vai se infiltrando nas relações, autoestima, oportunidades… E, claro, atravessa também as políticas públicas. Enquanto o preconceito contra a velhice for normalizado, vamos continuar travados.
E como você enxerga o próprio envelhecimento? Faz planos para essa etapa?
Faço, sim. Meu propósito hoje é trabalhar com pessoas mais jovens, ajudar a formar novas lideranças. Falo sobre legado, mas não porque quero ser lembrado. Tenho consciência de que é raro alguém ser lembrado duas gerações depois. O legado não é o nome que fica, é o que você constrói nas pessoas que influenciou, mesmo que elas nem se lembrem.