O apocalipse ainda está entre nós. Dentro da nossa cabeça e no horizonte. E essa é uma das visões que herdamos e ressignificamos em dois milênios de história.
No livro Chronos – O Ocidente confrontado ao Tempo, recém-publicado pela editora Autêntica, o historiador francês François Hartog examina como o cristianismo criou um arcabouço temporal que, ao longo dos séculos, determinou a vida no presente e o olhar no futuro para indivíduos, comunidades e toda uma civilização.
Dentro desse longevo regime de historicidade – um conceito elaborado por Hartog -, o autor nos mostra como os cristãos manipularam noções criadas pelos gregos antigos, como Chronos (o tempo vasto e inapreensível), Kairós (a ruptura, oportuna ou não, na ordem dos dias) e Krisis (um momento de julgamento por excelência), e cunharam novas ideias com base nas crenças estabelecidas pelo Novo Testamento e seus intérpretes para orientar a lida cotidiana (afinal, vamos colher o que plantamos, nem que seja em outra vida) e o fim do mundo tal qual o concebemos.

Nesse contexto, a leitura apocalíptica emerge para além da contagem dos ponteiros do relógio e será reconfigurada e reapropriada pelos movimentos que assumem a vanguarda da história, entre eles a Revolução Francesa. O curioso é que, mesmo que a sociedade ocidental tenha se despido de suas vestes religiosas, algumas dessas concepções permanecem instaladas ou diluídas em sua mentalidade, ora apoiando as transformações sociais, ora se chocando com elas.
O estudo minucioso e revelador de Hartog culmina com a análise do presentismo atual (e digital) e com um novo apocalipse à vista, o do aquecimento global. É o Ocidente confrontado mais uma vez com o senhor Tempo, em todas as suas dimensões cronológicas e existenciais. Pois a conta do que a humanidade fez pode chegar e o julgamento – ao menos o ambiental – já começou.
Com a palavra, François Hartog.
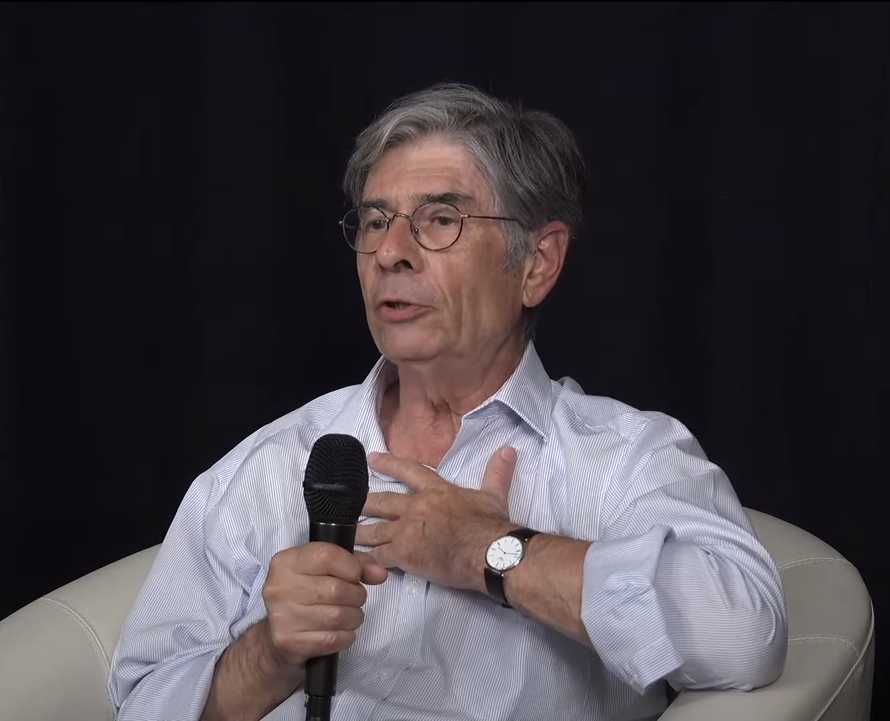
Enxergar as mudanças climáticas e outras marcas do Antropoceno como um fenômeno apocalíptico seria, no fim das contas, algo capaz de sensibilizar uma contraofensiva em prol do planeta ou apenas aceleraria a resignação e a manutenção de um modelo predatório à natureza e à humanidade? Ambos os caminhos são possíveis. A ameaça do apocalipse pode levar a uma mobilização e a uma contraofensiva em favor do planeta. Na melhor das hipóteses, podemos nos mobilizar para evitá-lo ou, pelo menos, para retardá-lo. Isso é o que poderíamos chamar de uso apotropaico do apocalipse, nos moldes do falecido Bruno Latour [“apotropaico” é um termo que se refere a atitudes ou ritos capazes de afastar algum tipo de mal].
Mas há outra direção, não? Na direção oposta, a ameaça pode levar a uma forma de resignação e a uma abstenção mais ou menos egoísta. Já é tarde demais, não há mais nada a ser feito e vamos aproveitar ao máximo o tempo que resta. Há uma terceira opção, que está sendo muito alardeada atualmente: a da negação. Donald Trump é seu porta-voz mais veemente – para ele, a mudança climática é uma farsa -, mas não faltam populistas para seguir o exemplo. É uma escolha na qual o medo, sem dúvida, desempenha um papel, e que está alinhada com o presenteísmo.
Em que medida os legados do regime de historicidade cristão dialogam com este novo momento de crise ambiental e social que vivenciamos? De acordo com a definição que proponho, o sistema cristão de historicidade era um presentismo apocalíptico. Mas era um tipo de presentismo muito diferente do que temos hoje, porque significava que, da Encarnação [de Cristo] ao Julgamento [o juízo final], certamente havia apenas um presente, mas um presente que estava aguardando o fim, que os primeiros cristãos acreditavam estar próximo. Claramente, as sociedades modernas descristianizadas não compartilham mais essa experiência de tempo, mesmo que o apocalipse tenha permanecido como uma espécie de sobrevivência. É exatamente isso que permite que todos os tipos de pessoas o utilizem hoje (especialmente em filmes, séries, livros etc.), inclusive para esse uso apotropaico que mencionei anteriormente.
O senhor acredita que as desigualdades sociais e globais inadvertidamente impactam o modo pelo qual as pessoas experimentam o tempo e se adaptam (ou não) ao regime de historicidade vigente? É claro que as desigualdades econômicas e sociais desempenham um papel importante na maneira como vivenciamos o tempo e, portanto, na maneira como nos situamos em um sistema de historicidade. De forma mais ampla, as diferenças culturais significam que o mesmo regime de historicidade não é percebido nem vivenciado da mesma forma em diferentes lugares, ambientes e países. Se o presentismo está em toda parte, ele não é “incorporado” da mesma forma em todos os lugares. Poderíamos dizer que há os “vencedores” do presentismo – todos aqueles que são móveis, ágeis, conectados – e os “perdedores” do presentismo – aqueles que sofrem com isso, os desempregados, os migrantes, muitas vezes os jovens, todos aqueles que literalmente vivem o dia a dia não por escolha, mas porque não podem se projetar no futuro.
Como avalia os riscos a que estamos submetidos enquanto sociedade nesta era regida por redes sociais, pelos algoritmos e pelo presentismo digital? Os riscos são os de um presentismo ainda mais sufocante. Tudo é colocado sob o signo da urgência, a emoção domina; com a emoção, a raiva se torna a resposta para tudo, sem necessidade de qualquer outra justificativa. É uma palavra de ordem que se sustenta por si só. Os algoritmos reforçam o conflito e geram dependência. O que parecia coroar a liberação do indivíduo moderno pode muito bem acabar como uma nova forma de subjugação.
